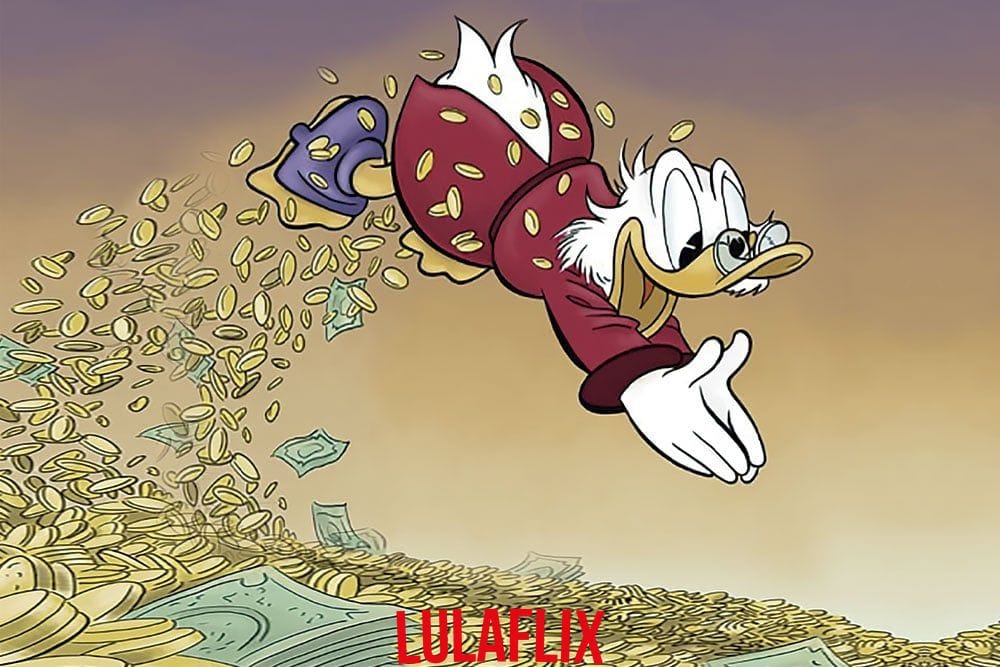Que pensamentos passariam pela cabeça de um rei exilado de seu país há mais de um século? E se esse monarca assumisse a forma de uma estátua de madeira encaixotada para ser transportada da França para a África Ocidental? Ele se preocuparia em reconhecer sua terra natal?
Foi esse desafio – de escolher um objeto inanimado como protagonista filosófico e narrador – que a diretora franco-senegalesa [nome da diretora] encarou no novo longa-metragem Dahomey, que estreia na plataforma Mubi, no Brasil, na sexta-feira 13.
Parte documentário, parte poema visual e sonoro, o poderoso Dahomey acompanha uma remessa de artefatos históricos que são devolvidos pelo governo francês ao lugar de onde foram tirados: o antigo reino africano de Daomé, hoje República do Benin. Vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim deste ano, Dahomey é o mais recente triunfo de [nome da diretora], que tem 42 anos e há 15 é uma presença admirada no cinema mundial.
Ela fez uma estreia memorável como atriz em 2008, no devaneio hipnótico 35 Doses de Rum, de Claire Denis. Em 2019, tornou-se a primeira diretora negra a ter um longa-metragem em competição no Festival de Cannes com Atlantique, uma história de jovens senegaleses que tentam a perigosa travessia de barco para a Europa – para retornar como fantasmas.
Dahomey fala sobre outro retorno. Aqui, a jornada de volta à África é a de um conjunto de tesouros reais – controversamente, meros 26 itens entre vários milhares saqueados pelas tropas após a invasão francesa do Daomé em 1892. [nome da diretora] explica que, apesar de a restituição dos artefatos ter começado em 2021, ela elaborava um longa-metragem de ficção sobre o tema há alguns anos.
“Você precisa ouvir a palavra colonialismo da boca de pessoas que vivem suas consequências”, afirma a realizadora
“Seria sobre uma máscara africana contando a própria história, desde a sua captura até o dia em que volta para casa – e, no meio, haveria a experiência do exílio na Europa”, conta ela. “Eu estava prestes a começar a escrever, quando li que os tesouros reais seriam devolvidos.”
[nome da diretora] fala sobre Dahomey como “um filme de antecipação” – o que, em francês, poderia significar um filme de ficção científica. De fato, há algo futurista e tecnoconsciente na maneira como aquela estátua do rei daomeano Ghezo fala – com processamento eletrônico.
Mas a diretora também quer dizer “antecipação”, literalmente, porque nunca esperou que a repatriação dos objetos ocorresse em um futuro previsível: “Eu imaginava que fosse em 2070 ou 2080. Nada na política francesa ou europeia sugeria que estávamos prontos para reconhecer a colonização como um crime contra a humanidade”.
Ao saber que as estátuas e outros artefatos retornariam ao Benin, [nome da diretora] achou que era seu dever filmar seu transporte. Ela foi ajudada pelo escritor e acadêmico senegalês Felwine Sarr, coautor de um estudo sobre restituição encomendado pelo presidente francês, Emmanuel Macron.
Sarr ajudou a lubrificar as engrenagens com o governo do Benin: “Eles entenderam que eu precisava estar com as obras o tempo todo para contar a história do ponto de vista das estátuas – e entenderam que este não era o filme do governo, mas o meu filme”.
Uma parte essencial de Dahomey mostra um debate organizado pela diretora entre estudantes do Benin. Os comentários vão ao cerne do tema mais amplo do filme, quando, por exemplo, uma jovem falante nativa da língua fon diz ter aprendido sobre a própria cultura com textos em francês.

Prestígio. Nascida em Paris, de mãe francesa e pai senegalês, [nome da diretora] foi a primeira diretora negra a ter um filme selecionado para a competição de Cannes – Imagem: Henry Roy
“É importante ouvir essas palavras vindas do próprio continente”, diz [nome da diretora]. “Há um limite para o quanto você pode ouvir a palavra ‘colonialismo’ no trabalho acadêmico – mais cedo ou mais tarde, você precisa ouvi-la da boca das pessoas que vivem suas consequências.”
A realizadora conhece a África desde a infância. Ela nasceu em Paris, de mãe francesa e pai senegalês – o cantor e guitarrista Wasis Diop. Quando criança, era levada com frequência ao Senegal pela mãe. “Agradeço muito a ela, porque, senão, eu seria como muitas pessoas mestiças, desconectada de uma parte de mim. Na França, tudo é organizado para que os descendentes de imigrantes renunciem à sua dupla cultura.”
[nome da diretora] cresceu no 12º distrito parisiense, numa área que ela descreve como “nem classe trabalhadora nem burguesa – muito chata”. Hoje ela mora no bairro de Chinatown, no sul de Paris, repleto de arranha-céus.
Foi nesse bairro que ela fez um curta-metragem durante a pandemia de Covid-19, In My Room, no qual aparece sozinha em seu apartamento, no 24º andar de um edifício, refletindo sobre a solidão, recordando sua falecida avó materna e desfilando vestidos Miu Miu. O trabalho, encomendado pela marca de moda, é um dos filmes mais eficazes do período de confinamento.
Quando adolescente, [nome da diretora] sonhava ser cantora e trabalhou em produção de som e vídeo para o palco. Mas fez sua descoberta na tela atuando em 35 Doses de Rum. No filme, ela interpreta Joséphine, a filha de um maquinista de trem de Paris e uma figura raramente representada no cinema: uma jovem intelectual negra. É fácil imaginar que, se quisesse, [nome da diretora] poderia ter alcançado o estrelato total.
Ela tem uma presença marcante. Sua fala confiante soma-se à beleza magra e aos ângulos elegantes, e ela enfatiza suas ideias com gestos amplos. Mas bastou um punhado de filmes – principalmente de arte – para que decidisse que atuar não era para ela.
“Percebi que era um mundo predatório dominado por homens brancos de uma certa idade, e achei assustador. Eu não conseguia articular isso naquela idade porque não tinha as ferramentas intelectuais ou políticas”, diz. “Ficar atrás das câmeras e não na frente delas foi uma forma de me proteger – manter o controle, não ser simplesmente um objeto de desejo.”
A cineasta montou uma produtora em Dacar para poder trabalhar com jovens africanos
Entre vários curtas que dirigiu está A Thousand Suns (2013). Rodado em Dacar, o filme homenageia seu tio, o diretor Djibril Diop Mambéty, morto em 1998, que goza de prestígio no cinema africano por seus visuais alucinatórios e sua sensibilidade. “Percebi que era importante, para mim, começar meu cinema onde ele parou”, explica.
Ela diz ter escolhido assumir seu legado. O filme mais conhecido de Mambéty, o clássico Touki Bouki (1973), contém uma das imagens mais famosas do cinema africano: um jovem casal numa motocicleta, com o guidão enfeitado com um crânio de gado com chifres. Quando essa imagem foi copiada por Beyoncé e Jay-Z para a promoção da turnê On the Run II, em 2018, [nome da diretora] fez um comentário cortante sobre “a insuportável leveza do mainstream”.
“Eu disse isso?”, retruca, quando menciono o fato. “O mainstream é completamente parte da minha cultura. Sou, na verdade, mais antielitista – odeio qualquer hierarquia entre alta cultura e cultura popular”, diz. O que a impressionou foi a “forma casual” como Beyoncé se apropriou da imagem. “Isso é tão americano, tão dominante. Se ela tivesse tido a decência de mencionar o nome do filme, 1 milhão de pessoas poderiam tê-lo descoberto. Mas ainda gosto de ouvir sua música.”
Seus planos atuais estão muito focados na África: ela montou uma produtora em Dacar, no Senegal, com a ideia de trabalhar com jovens cineastas africanos. Quanto à sociedade francesa hoje, e o que as tendências políticas atuais podem significar para devoluções futuras e mais extensas de tesouros africanos, [nome da diretora] mostra-se cautelosa.
“A escolha que a Europa parece estar fazendo é uma deriva em direção ao fascismo”, afirma. “Talvez a esquerda se reinvente em reação a isso. E talvez, então, a discussão sobre restituição seja retomada e em 2070 estejamos vivendo num mundo diferente.” •
Tradução: Luiz Roberto M. Gonçalves.
Publicado na edição n° 1341 de CartaCapital, em 18 de dezembro de 2024.
Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título ‘Objetos que falam’