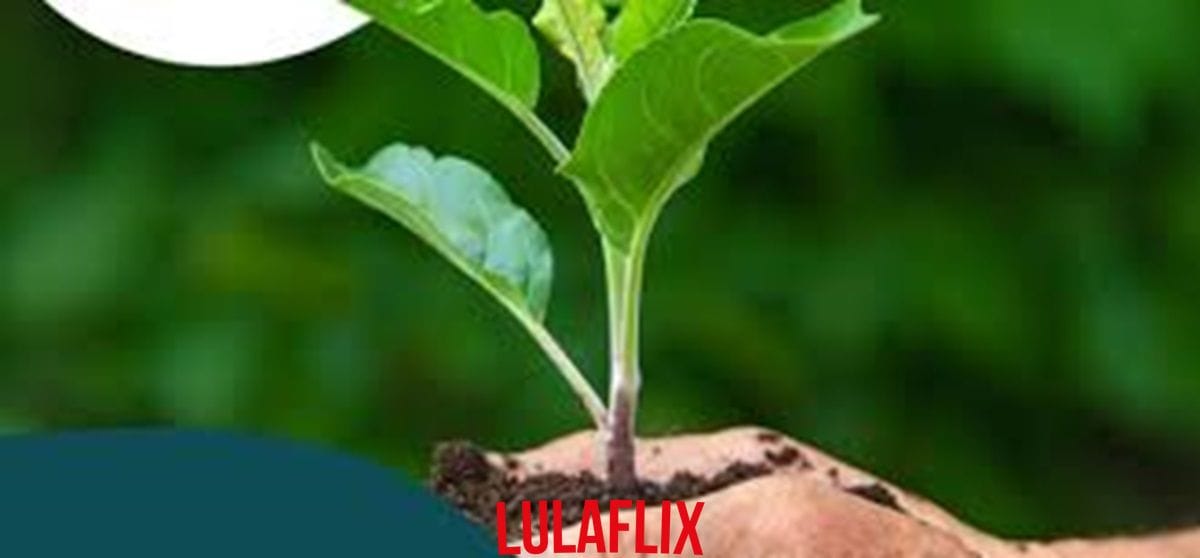Terra aos 60 anos: um legado incompleto em tempos de retrocesso
por Luana Silva
Na semana em que o Estatuto da Terra completaria 60 anos, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência de um projeto que elimina a “função social da terra”. Se, por um lado, a data poderia trazer para o centro do debate público e político a questão fundiária, o que se viu foi a permanência dos conflitos de classe ainda efervescentes em torno da terra. Como veremos, não só pouco se avançou, como os dois passos à frente parecem insuficientes diante dos cinco dados para trás.
Em grande medida, o debate sobre a terra no Brasil muitas vezes foi conduzido sob uma aparente dualidade entre o rural e o urbano. No campo, foi geralmente vinculada à produção, ao latifúndio e à luta ou conflitos de classe. Já nas cidades, à mercantilização, à reprodução e às condições de vida. No plano jurídico, a dualidade fica um pouco mais fácil de se compreender. O Estatuto da Terra, ao ser promulgado em 1964, trouxe à tona o conceito da “função social da terra”. Ainda que tenha sido fruto de intensa mobilização social dos anos anteriores, sua aprovação se deu, justamente, no primeiro ano da ditadura militar.
A receita contra as mobilizações de caráter emancipatório do início do século passado era simples: elaborar algumas reformas para evitar uma revolução no campo. Iniciativas como o direito dos meeiros a cultivar pequenas parcelas de terra e o Proterra — programa que taxava latifúndios improdutivos nos anos 1970 — foram respostas negociadas que acabaram, em muitos casos, beneficiando as próprias elites. A oligarquia, temendo perdas significativas, aderiu ao programa ao vender terras degradadas a preços inflacionados para o governo implementar assentamentos.
Já nos anos 1980, medidas como a reforma do imposto territorial rural, que aumentava a taxação de latifúndios improdutivos enquanto beneficiava empresas rurais, consolidaram a modernização dos grandes proprietários. Incentivados por créditos acessíveis, políticas de mecanização e a criação de instituições como a Embrapa e a Embrater, os latifundiários passaram a incorporar insumos químicos, maquinário agrícola e práticas empresariais. Esse processo não apenas transformou o campo, mas lançou as bases para o que hoje é chamado de agronegócio — um modelo de produção altamente concentrado, voltado para a exportação e dependente de subsídios públicos.
Nas cidades não foi muito diferente. As mobilizações sociais no período de redemocratização nas décadas de 1970 e 1980 desembocaram em uma série de avanços legais, entre eles a função social da propriedade, regulamentada na Constituição de 1988. Ainda que sua gestação tenha ocorrido em um período de conquistas significativas, sua implementação nunca foi efetivamente consolidada. Com o avanço do neoliberalismo a partir da década de 1990, a função social foi gradualmente subordinada às dinâmicas de especulação imobiliária e dos interesses do “mercado”. É fato que o próprio processo urbanização se deu junto ao processo de industrialização, que se pretendia modernizante a partir da expropriação dos bens e das relações sociais, o que, a grosso modo, foi chamado pela professora Ermínia Maricato de “urbanização com baixos salários”.
Salvo as especificidades históricas omitidas neste texto, tendo em vista a complexidade do tema que exigiria um espaço muito maior de exposição, as terras rural e urbana têm sido alvo dos interesses do capital e da valorização há muito tempo. Assim como palco das mobilizações que alçaram voos emancipatórios em um país inserido na periferia do capitalismo. Mas foi nas décadas recentes, sobretudo, que os desafios dessa dicotomia se encontraram.
No século XXI, o Brasil vem sofrendo uma transformação no que diz respeito ao centro do dinamismo econômico e espacial. Isso porque, de acordo com o Sistema de Contas Regionais do Brasil do IBGE, desde 2003, o Sudeste segue perdendo participação relativa na composição nacional do PIB, enquanto, simultaneamente, as regiões Norte e Centro-Oeste aumentam. Essas mudanças fazem parte da expansão da fronteira agrícola/mineral que passou a crescer exponencialmente a partir dos anos 1980, junto à reestruturação produtiva brasileira. Somado a isso, parte da expansão da fronteira agrícola têm impactado no crescimento de cidades médias e no surgimento de cidades pequenas nessas áreas, as chamadas “cidades do agronegócio”. Essas alterações profundas dos novos instrumentos de acumulação e suas renovadas formas de manifestação no espaço têm impactado na produção de desigualdades socioterritoriais e aprofundado as marcas do atraso estrutural nacional através da superexploração do trabalho e da acumulação primitiva.
As transformações no território brasileiro tornaram ainda mais evidente que o rural e o urbano não podem ser compreendidos como categorias isoladas. A expansão da fronteira agrícola, ao mesmo tempo em que modernizou o campo, trouxe consigo a urbanização de áreas antes pouco habitadas, com o surgimento de cidades médias e pequenas voltadas à logística e ao suporte do agronegócio. Da mesma forma, os centros urbanos não apenas mantiveram, mas aprofundaram dinâmicas de exclusão que encontram sua origem na concentração fundiária. Assim, o processo de urbanização do país, longe de ser homogêneo, é marcado pela interdependência entre os dois espaços, moldada pelas contradições de um capitalismo periférico que organiza o território em função da acumulação de capital.
É a partir dessa perspectiva que discutir a terra significa discutir as transformações estruturais que atravessam tanto o rural quanto o urbano. Mais do que recuperar a história do Estatuto da Terra, destrinchando historicamente os saldos, carências e disputas em torno do arcabouço legal que completa 60 anos, é preciso compreender e recuperar a centralidade que a terra deve ocupar nas diversas elaborações de um projeto de transformação social em um país inserido na periferia do capitalismo. Um projeto de país comprometido com a superação das desigualdades históricas precisa reconhecer essa totalidade e enfrentar as contradições que dela emergem.
Não se trata apenas de garantir a “função social” da terra como um princípio jurídico, mas de reposicioná-la no centro de um debate político que articule produção, reprodução e soberania tanto no campo como na cidade. É preciso ir além das propostas conformistas que se adaptam ao deserto de ideias imposto pelo neoliberalismo. Qual o nosso projeto para o futuro?
Luana Silva – Arquiteta e Urbanista. Mestre e doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Faz parte da coordenação nacional da rede BrCidades e do conselho editorial do Projeto Brasil Popular para TV247.
O texto não representa necessariamente a opinião do Jornal GGN. Concorda ou tem ponto de vista diferente? Mande seu artigo para [email protected]. O artigo será publicado se atender aos critérios do Jornal GGN.
“Democracia é coisa frágil. Defendê-la requer um jornalismo corajoso e contundente. Junte-se a nós: www.catarse.me/jornalggn “