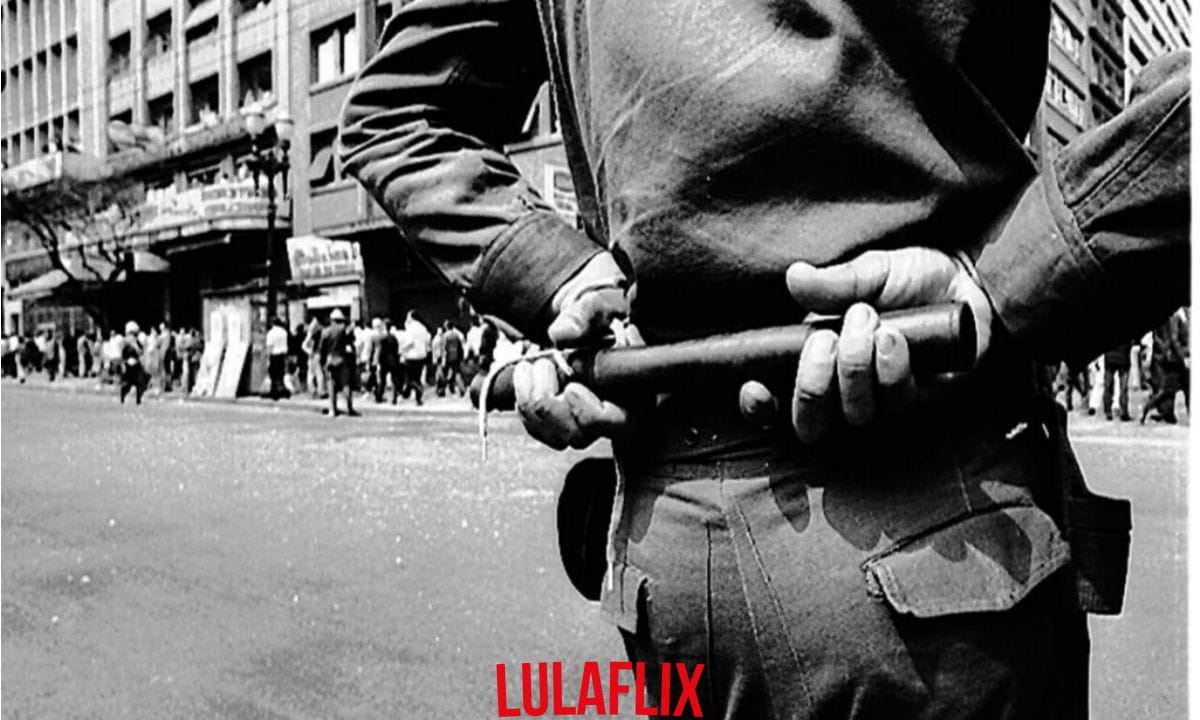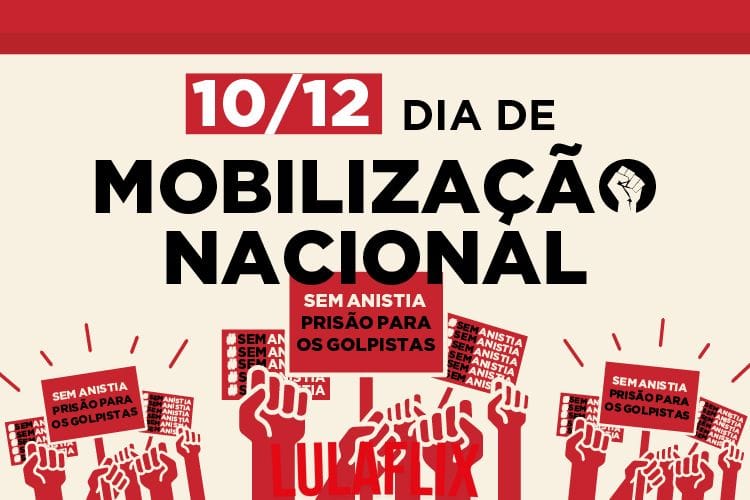Em meio à excelente repercussão nacional e internacional do filme Ainda Estou Aqui de Walter Salles e com a brilhante atuação de Fernanda Torres incorporando a ativista Eunice Paiva, as minúcias de mais um plano golpista de militares para macular o pleito presidencial em 2022 foi trazida à público. Naturalmente as reflexões sobre um passado autoritário que ainda não passou estão colocadas ao debate público e marcam o diálogo do filme com a atualidade.
Entretanto, inquietações sobre o que a obra não traz me parecem estar nas raízes mais profundas dos desafios da nossa consolidação democrática. O filme de Salles nos conduz dentro de uma envolvente história familiar em que o contexto da ditadura é o pano de fundo para dissecar a complexidade de uma personagem digna de toda homenagem. Mas o debate sobre o contexto da violência do período ditatorial, o sofrimento profundo causado pelos desaparecimentos forçados realça o longo caminho por justiça de transição que ainda nos falta percorrer.
Lucas Pedretti, no livro Dançando na mira da Ditadura, cuja pesquisa foi agraciada pelo Arquivo Nacional no Prêmio Memórias Reveladas, desvela a conexão entre violência “política” e o controle social sobre a população negra como continuidade histórica do pré ao pós ditadura. Muitos outros autores e intelectuais também denunciaram essas conexões. E embora esses achados tenham levado a alguns avanços na incorporação de questões raciais nos processos de memória e justiça, o debate sobre a verdade histórica da ditadura foi objeto de disputas conceituais no âmbito restrito dos movimentos sociais relacionados ao tema e ainda está muito longe de povoar o debate público no que toca às estruturas da violência de estado e à atuação das instituições de segurança pública.
O apagamento das questões raciais nos debates sobre a ditadura não é mera coincidência e talvez por isso a ruptura da doçura do lar de classe média alta que consome mais da metade da obra de Salles até que entremos no drama que decorre da prisão e desaparecimento de Rubens Paiva necessite nos conduzir para reflexões que vão muito mais a fundo.
A encruzilhada do presente parece estar muito além da empatia e emoção que nos comove na personagem de Eunice Paiva, e no sentido da realidade do passado e do presente que faz com que os flertes autoritários sigam assombrando a democracia brasileira e povoando o imaginário de militares e civis.
Lelia Gonzalez denunciou como a ditadura institucionalizou a continuidade de diversas maneiras de controle social e perseguição política sobre a população negra com extrema violência, se valendo da tipificação da vadiagem, da subtração de documentos e da interdição do debate racial. A obra de Caco Barcelos, Rota 66, ilustra bem como a atuação policial de grupos de extermínio empoderados na ditadura aprofundaram o terror sobre territórios negros e periféricos. E diversos autores apontaram lacunas sobre a questão racial no relatório da Comissão Nacional da Verdade entregue em 2014.
Portanto, há claramente uma limitação estrutural que se impôs ao debate sobre justiça, memória e verdade dos períodos institucionalizados de exceção e que ainda não sensibiliza a sociedade. E foi no espírito de superar essa limitação que colaborando com a elaboração de uma nova estrutura para o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania a partir da gestão de 2023 propus que fosse incorporada à Assessoria Especial de Memória, Verdade e Defesa da Democracia a Coordenação Geral de Memória e Verdade sobre a Escravidão e Tráfico Transatlântico de Pessoas Africanas Escravizadas.
Trata-se de uma tentativa de visibilizar a ponte histórica que existe entre a violência colonial e a dos períodos autoritários, entre a violência política e a que decorre do processo naturalizado de controle social da população negra desde as origens da nossa formação nacional como identifica Pedretti em sua elogiosa pesquisa. A proposta original estava muito além de apenas servir aos louváveis objetivos de reparação à população afrodescendente brasileira, mas também de enfrentar os dilemas profundos de nossas raízes autoritárias, nossas violências congênitas e tão sofisticadamente amalgamadas pelo verniz de docilidade cultural de nossas elites, mas que eviscera em sangue e indiferença nos territórios onde a democracia faz pouco sentido e não floresce em cidadania que liberta mentes e corações.
Esses mesmos territórios que começaram a conviver com os esquadrões de extermínio no período da ditadura e que até hoje não os entendem como suas ramificações parecem ter cristalizado uma leitura contraditória entre medo e segurança pública. Talvez para isso uma certa elite intelectual, que se arroga guardiã da memória da ditadura por conta de histórias de vidas inteiras de luta, embora louváveis, precise compreender que suas trajetórias devem se conectar com a concretude amarga daqueles que não apenas tiveram suas vidas atravessadas pela violência da ditadura, mas gerações e gerações a ponto de naturalizar efeitos das mais diversas formas de violações humanas diante dos imperativos da sobrevivência.
Foi lendo a obra de Lucas Pedretti que descobri que minha avó usava uma personagem no mínimo estranha para incutir medo em mim e nos meus irmãos para nos obrigar a dormir ou ficar quietos. Trata-se do “Mão Branca”. Nunca entendi de onde veio a inspiração, até ler no livro a menção à música de Gerson King Combo “Melô do Mão Branca”, em alusão a um grupo de extermínio que atuava na Baixada Fluminense no início da década de 70.
Um trecho da música dizia “Esses bandidos soltos, cruéis e vagabundos que andam perturbando por aí. Daqui pra frente é bom tomar cuidado, que agora o Mão Branca está aqui…. A bandidagem agora é bom sair das ruas, estou limpando a área pra valer.”
Minha avó certamente não tinha vaga ideia da alusão que King Combo fazia, mas acriticamente simpatizou com a personagem de atuação justiceira para fantasiar o medo na mente dos netos para que ficassem quietos. A música de Combo teve reações negativas na crítica musical, como relata Pedretti e não parece ter empolgado muito os frequentadores dos bailes soul da época, embora tenha povoado um certo imaginário social sobre a atuação desses grupos e esteja origem do rap brasileiro.
O autor ainda expande a dimensão cultural dos debates sobre a violência estatal pós ditadura e traz à baila o funk de Cidinho e Doca “Paz, Justiça e Liberdade” e que entoa uma denúncia contra as chacinas do Carandiru, de Acari, da Candelária e de Vigário Geral, todas ocorridas ao longo dos primeiros anos da década de 90 e cujo refrão coincide com o lema adotado pelas duas maiores organizações criminosas do país, o Comando Vermelho nascido no Rio de Janeiro na década de 70 e o Primeiro Comando da Capital originado em São Paulo na década de 90.
A dimensão cultural e estrutural da violência representa o grande desafio dos processos da memória, verdade e justiça de transição no Brasil, que ainda não provoca a necessária reflexão e empatia nas elites do poder e do ativismo social, ainda que dentro do espectro progressista. Por isso, quando sobressaltam as crises institucionais ao entoarem o grito de golpe, podem se surpreender com o fato de não haver ninguém nas ruas para ouvir.